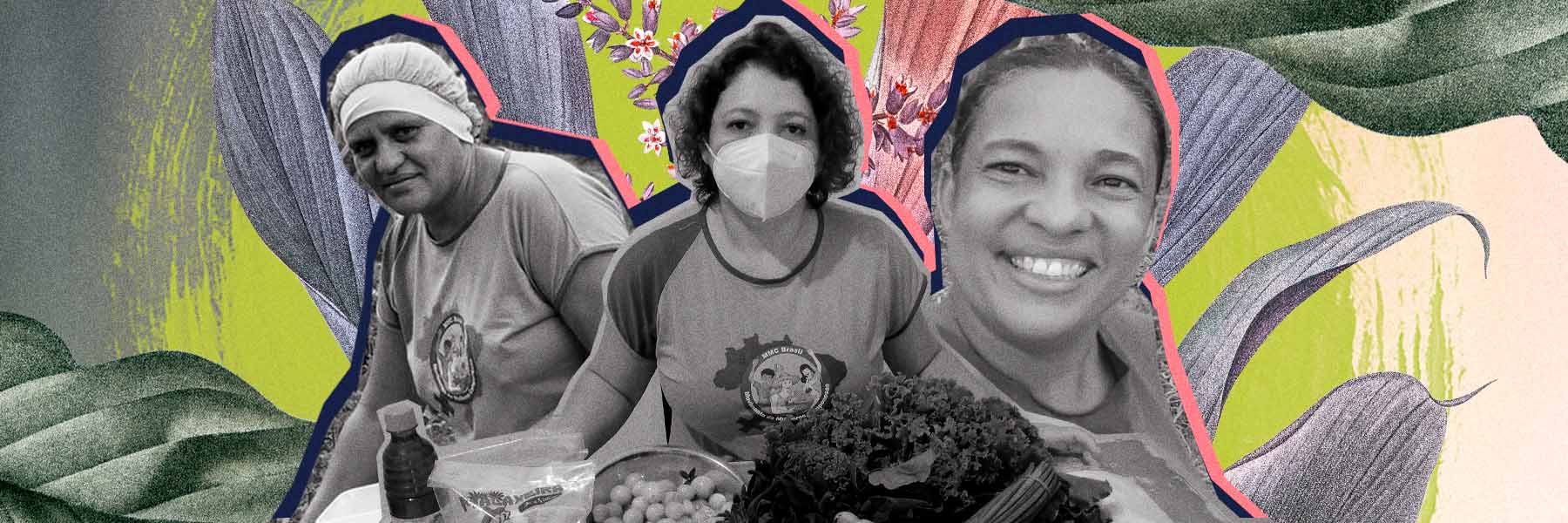Nas vésperas dos dias de feira, Lucivanda Rodrigues da Silva vai dormir por volta da meia-noite, depois de todos os afazeres domésticos, e às 3h da madrugada já está de pé. A barraca onde ela coloca as hortaliças, frutas, cana descascada e picada, pamonha e outros alimentos precisa estar montada às 5:30 para o início das vendas. E o povo pensa que quem faz isso tudo é o marido.
“Ninguém diz que compra a couve da Dona Maria, apesar de ser ela quem planta, colhe e prepara; as pessoas falam: a couve do Seu Zé, porque é ele quem vende na feira”, exemplifica Lucivanda sobre a invisibilização do trabalho das mulheres no campo. É ela quem cuida dos canteiros e de todo o manejo da horta, desde o plantio à colheita, até chegar nas mãos dos consumidores.
A feira da agricultura familiar de Governador Valadares, em Minas Gerais, ocorre todas às segundas e quintas. “Quase todo trabalhador descansa no domingo. Mas se a gente aqui da roça parar um diazinho sequer, o Brasil não come”, diz Lucivanda, que produz tudo de forma agroecológica na sua propriedade de 11 mil metros quadrados, a 8 km da cidade.
Plantar, colher, preparar, vender e alimentar comunidades de maneira sustentável. O serviço, que exige tanto fisicamente, se soma aos cuidados da casa e da família – que segue sobrecarregando mulheres -, e ainda arruma-se tempo para a luta social. Lucivanda faz parte do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC) há 15 anos e, junto com agricultoras de todo o país e da América Latina, organiza as pautas e as atividades do Feminismo Popular Camponês no Brasil. Uma resistência contra a precarização do trabalho delas.
Apenas 12% das propriedades rurais no Brasil pertencem a mulheres – e por serem áreas pequenas (menores de 5 hectares) isso corresponde a somente 5% das terras do país. Já os homens são donos de 88% das propriedades e quase a totalidade das terras brasileiras, de acordo com a pesquisa Terrenos da Desigualdade, realizada pela Oxfam Brasil em 2016.
PRECONCEITOS ENRAIZADOS
As mulheres não são proprietárias, mas estão mais presentes no campo, chegando a representar 80% dos trabalhadores na produção nacional da agricultura familiar que são fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), conforme o último balanço, de 2019, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Elas trabalham em grande parte das propriedades rurais, dos maridos ou de terceiros.

Nos pedidos de crédito rural, existe muito preconceito com as mulheres porque os credores não acham que elas serão capazes de produzir o suficiente para quitar a dívida. Algumas iniciativas e propostas de lei tentam mudar isso. O Elas no Congresso – projeto da revista AzMina – mapeou pelo menos dois PLs nesse sentido em tramitação na Câmara dos Deputados.
O Pronaf Mulher, que é uma linha de crédito específica para mulheres, também surgiu para driblar essa dificuldade, mas Lucivanda não conhece nenhum caso de uma mulher que conseguiu ter um crédito aprovado neste projeto, tamanha é a burocracia.
Por produzirem a maioria dos alimentos, as mulheres procuram se informar e se regularizar para fazer parte de programas como o PAA e o PNAE. O primeiro é uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil. Por meio do programa, agricultores, cooperativas e associações podem vender seus produtos para órgãos públicos, sem necessidade de licitação.
MOVIMENTO DE MULHERES
O enfrentamento das mulheres no campo não tem tanta visibilidade nas redes sociais, na mídia ou mesmo nas universidades, mas a organização das agricultoras brasileiras não é recente. A militância das camponesas já tem cerca de 40 anos e, antes da fundação do Movimento das Mulheres Camponesas, em 2006, ocorria nos sindicatos rurais municipais, estaduais e na Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura (CONTAG).
Mas, como contou Lucivanda, a participação das mulheres nesses espaços não era suficiente para garantir que as pautas feministas prosperassem. “Nos movimentos mistos, quem toma as decisões são os homens. E nossas reivindicações eram atropeladas e abafadas”.
A criação da entidade e a oficialização do feminismo dentro dos movimentos sociais de agricultores quebrou um paradigma. No início, muitos integrantes dos sindicatos e outros movimentos eram contrários à fundação do MMC. “Havia uma ideia de que se nos assumíssemos como feministas estaríamos dividindo as frentes de lutas no campo e isso nos enfraqueceria”, lembra Lucivanda.
Fracos já eram os direitos delas. Até 1962, mulheres casadas não podiam adquirir ou possuir propriedade em seu nome. Foram muitas batalhas travadas para conquistar direitos mínimos. Mas a situação das brasileiras no campo ainda é mais desigual do que nas cidades.
PLANTANDO DIREITOS
A camponesa Martinha Jorge Moreira foi a primeira trabalhadora rural a conseguir auxílio-maternidade na sua cidade, Governador Valadares (MG). “Tive que insistir”, disse ela. Foi preciso que o sindicato providenciasse vários documentos e depois a mulher tinha de passar por entrevistas cheias de preconceito e intimidação no Ministério Público e no INSS.
“Todos os dias eu ia ao INSS e escutava uma desculpa diferente. Eles não sabiam como protocolar meu pedido no sistema”. E ela só conseguiu o benefício quando um funcionário experiente veio transferido de outra cidade. “Valeu a pena porque isso abriu o caminho para outras mulheres”, contou Martinha, que também foi uma das principais articuladoras do MMC. Atualmente, ela vive em um dos assentamentos do Movimento Sem Terra (MST) na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.
Martinha enfatiza que, mesmo que alguns direitos estejam assegurados hoje no Brasil, as camponesas ainda precisam resistir para garantir que não haja retrocessos na legislação.
Uma vitória recente foi a manutenção, durante a Reforma da Previdência realizada em 2017, dos direitos que as trabalhadoras rurais haviam adquirido em 1993. Enquanto os trabalhadores do regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sofreram com a flexibilização de regras relativas à jornada de trabalho, maternidade e aposentadoria, boa parte dessas alterações não se estenderam ao regime rural. Isso foi graças a uma mobilização das agricultoras em Brasília.

UMA BUSCA DIÁRIA POR AUTONOMIA
É no dia a dia com as mulheres do campo, com a realização de mutirões de plantio, feiras e encontros, que o movimento tem ganhado corpo e voz. As atividades incluem ensinar trabalhadoras rurais a ler e escrever, providenciar documentos como a carteira de identidade; promover consultorias para otimizar a produção e a venda de alimentos em feiras, cooperativas e programas governamentais; além de organizar grupos de estudo para conscientização sobre violência doméstica, igualdade de gênero, educação sexual e saúde da mulher.
Para a diretora nacional do MMC, Michela Calaça, o termo “feminismo” é muito genérico para definir os enfrentamentos das mulheres do campo, que incluem quilombolas, indígenas, pescadores, extrativistas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, entre outros grupos.
Por isso, elas demoraram a se declarar feministas. A Diretora Nacional do Movimento das Mulheres Camponesas esclarece que havia uma divergência conceitual porque se entendia feminismo como um movimento europeu, branco, que veio da colonização. “Com o tempo, entendemos que o feminismo é mais do que esse estereótipo”.
Optar pelo uso do termo “Feminismo Camponês Popular” trouxe a perspectiva de um feminismo alicerçado no campesinato, que se constrói na luta popular e no trabalho de base e entende o camponês na sua diversidade. “Isso nos deu pertencimento”, falou Michela.
CONHEÇA A MARCHA DAS MARGARIDAS
De quatro em quatro anos, milhares de trabalhadoras rurais do país se reúnem em Brasília para reivindicar direitos e melhorias. É a maior mobilização nacional das mulheres do campo, que ocorre desde os anos 2000, após a conquista dos direitos previdenciários, a sindicalização e a criação, nos anos 90, das comissões e coordenações de mulheres. O nome é uma homenagem à nordestina Margarida Maria Alves, que presidiu por 12 anos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, e foi brutalmente assassinada em 12 de agosto de 1983.
GÊNERO DENTRO DAS ENTIDADES
Além do MMC e dos sindicatos, outros movimentos sociais possuem setores de gênero que atuam a partir do Feminismo Camponês Popular. É o caso do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e do MST.
São feitas reuniões para abordar questões como a divisão igualitária do trabalho doméstico e a independência financeira da mulher. Existe uma falsa ideia de que a mulher do campo não trabalha na roça, só ajuda o homem. “Mas quem produz diversidade de alimentos é a mulher porque é ela quem cuida das hortas e das pequenas criações”, explica Edilene.
Nos assentamentos, a tolerância é zero para casos de agressão e violência doméstica. Edilene Cenourinha dos Santos, que coordena o setor de gênero do MST em Minas Gerais, destaca que o agressor perde a concessão do lote, é expulso do MST, denunciado às autoridades, e a vítima e sua família recebem todo suporte.
Mas as mulheres permanecem cotidianamente expostas às várias formas de violência, mesmo dentro dos movimentos sociais. E, quando se trata da população rural, os problemas são ainda mais invisibilizados.
É preciso que outras frentes do feminismo e a população urbana abracem as causas do Feminismo Camponês Popular. Afinal, são essas mulheres no campo que produzem alimentos e cuidam do meio ambiente. E o movimento das camponesas percebe uma força cada vez maior com as novas gerações chegando mais engajadas, com mais acesso à informação e recursos para o enfrentamento necessário.
“As mulheres da cidade já estão entendendo que a luta por autonomia é uma só e estão se juntando a nós, seja marchando, seja passando a consumir alimentos da agricultura familiar”, comemora Lucivanda Rodrigues, do interior de Minas.
AGROECOLOGIA COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL

As pautas do movimento de mulheres são diversificadas e se entrelaçam com a agroecologia, a defesa do meio ambiente, o direito à terra e o anticapitalismo. “Sem feminismo não há socialismo, e sem agroecologia não há soberania alimentar nem preservação ambiental”, argumenta Michela Calaça.
Ela denuncia que o patriarcado trata a terra como trata o corpo da mulher: “como um objeto a ser conquistado, um recurso a ser explorado. Por isso a agroecologia e o feminismo estão intimamente ligados”.
A agroecologia é um modelo de produção de alimentos natural e sustentável que desafia a lógica da monocultura e do uso de agrotóxicos, que são a base do agronegócio. A ideia é diversificar o plantio, cultivando hortaliças, frutas, leguminosas e aromáticas sem o uso de pesticidas ou insumos químicos e artificiais, respeitando os ciclos de cada espécie.
Além de produzir alimentos orgânicos variados dentro do mesmo espaço, a agroecologia também é importante para a preservação dos recursos naturais presentes nas zonas de cultivo, como as nascentes e mananciais, a fauna e flora nativas e a qualidade do solo.
COMO FORTALECER O FEMINISMO CAMPONÊS, FAZER BEM PARA A SAÚDE E O PLANETA:
- Frequente feiras da agricultura familiar, armazéns do campo, ao invés de supermercados e sacolões;
- Procure comprar hortaliças e frutas direto de produtores rurais;
- Participe de iniciativas coletivas de compra de alimentos agroecológicos, como as CSAs (Comunidades que Sustentam a Agroecologia);
Correção: Diferente do informado anteriormente nesta matéria, as mulheres representam 80% das pessoas que forneceram alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA executado pelo Conab em 2019.
– Link para a matéria publicada em 11 de janeiro de 2022 (Atualizado em 26 de janeiro de 2022): https://azmina.com.br/reportagens/trabalhadoras-rurais-lutam-por-autonomia-na-agricultura-familiar/ –